ENSAIO
Manuel Carvalho
8 de Abril de 2018, 9:26
Na madrugada de 9 de Abril de há 100 anos, o frágil Exército português teve de enfrentar uma poderosa ofensiva dos alemães nos campos húmidos e gelados da Flandres francesa.
Em poucas horas, o destino dos 20 mil soldados que defendiam uma linha de dez quilómetros dividia-se entre a morte, a prisão ou a fuga.
Foi um desastre que o caos da República e a incúria do Exército ajudam a explicar.
Lá para o final da manhã fria e cinzenta de 9 de Abril de 1918, o alferes Carlos Olavo chegara à dura conclusão de que nada podia salvar o destino dos 20 mil portugueses que aguentavam há horas um impiedoso ataque alemão no sector de La Lys, na Flandres francesa.
“Estamos perdidos, cercados, prisioneiros!
E não há possibilidade nem de resistir, nem de retirar.
Nunca me senti tão desgraçado pelo inesperado de uma situação cuja probabilidade afastei sempre do meu destino.
Vencido, definitivamente vencido!”, lamentava.
Na zona de Lacouture, Alfredo Milhais escondera-se num abrigo para com a sua metralhadora tentar suster o ímpeto dos alemães, um acto de coragem que lhe valeria a mais alta condecoração militar portuguesa, mas o seu gesto tinha tanto de desesperado como de inútil.
O violento bombardeamento com 1500 peças de fogo durava desde as 4h15 da madrugada e o sector ocupado pelo Corpo Expedicionário Português (CEP), com uma extensão na linha da frente de cerca de dez quilómetros, tinha-se transformado numa “massa de escombros, de terra, de revestimentos despedaçados, amalgamados com os cadáveres das guarnições”, na avaliação do comandante da divisão, o general Gomes da Costa.
O registo das primeiras dez horas da batalha de La Lys dão corpo a alguns dos mais dramáticos momentos da história militar de Portugal.
Nos anais da Primeira Guerra Mundial, os combates nas planícies húmidas do rio Lys não passam de um pequeno episódio no rol de batalhas dramáticas entre franceses, ingleses e alemães no Somme, no Marne ou na região de Ypres.
Mas, para os mais de 50 mil militares portugueses enviados para a frente, esse confronto tornou-se o símbolo de uma aventura errática, absurda, gerida por governos insensíveis e comandada por oficiais incompetentes e alheados do drama humano dos seus subordinados.
Quando tudo acabou, ao princípio da tarde de 10 de Abril, o CEP contabilizava 398 mortos, dos quais 29 oficiais, e 6585 prisioneiros, dos quais 270 oficiais.
A ousadia da jovem República, que se pretendera afirmar internacionalmente participando num conflito para o qual o país não estava preparado, acabara ali.
O CEP tornava-se um fantasma a ensombrar o novo regime.
Teria de ser assim?
Aniceto Afonso, coronel do Exército na reserva, mestre em História Contemporânea e um dos mais reputados especialistas na história militar nacional, invoca um contexto para que se possa ter uma resposta: “A zona de La Lys era das mais difíceis de toda a frente, é muito fria, húmida e sujeita a nevoeiros.
Os soldados portugueses tinham lá passado todo o Inverno.
Estavam destruídos”, diz.
As dificuldades em obter barcos britânicos para transportar tropas de Portugal e a má vontade inglesa em receber mais soldados para treinar, equipar e alimentar tinham impedido o refrescamento das duas divisões.
Os 55 mil homens, que entre Janeiro e Setembro de 1917 tinham embarcado para Brest e daí seguido para a frente até Aire-sur-Lys, sentiam-se esquecidos e abandonados.
Por terem reconhecido o desgaste e o baixo moral das tropas portuguesas, os comandos britânicos tinham decidido a 7 de Abril que toda a divisão comandada por Gomes da Costa seria rendida na noite de 9 para 10 de Abril.
“Estava tudo a preparar-se para sair dali quando o ataque alemão os apanha completamente desprevenidos”, conta Aniceto Afonso.
Entender as causas que estão na base da “resistência ténue”, na expressão do historiador, que o CEP opôs à ofensiva “Georgette” dos alemães obriga a um regresso ao início da Guerra e às fragilidades da República.
Na política, o país e o regime estavam fracturados entre “guerristas” e “antiguerristas”.
Para homens como Brito Camacho, líder do Partido Unionista, fazer a guerra em defesa das colónias africanas era uma obrigação, tudo o resto não fazia sentido.
O país estava com ele.
“Havia uma ancestral compreensão perante as mobilizações que se destinavam às colónias africanas, mas uma total apatia e incompreensão, senão revolta, na participação no conflito que se desenrolava na Europa”, escreveu Luís Alves Fraga, historiador, numa obra sobre a Primeira Guerra, coordenada por Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes.
João Chagas, alta figura dos Democráticos, dizia por seu lado que as colónias africanas se defendiam na Europa.
No Exército a divergência era igualmente nítida, com militares como Machado Santos, o “herói da Rotunda” no 5 de Outubro, ou Pimenta de Castro (que foi primeiro-ministro em 1915) a manifestarem sérias reservas à guerra.
Até Fevereiro de 1916, o debate político e militar foi supérfluo porque a Inglaterra estava pouco interessada em apoiar a entrada na guerra de um país em crise profunda, cujo exército “não possui preparação alguma, não possui armamento, nem munições, nem material, nem uniformes, nem calçado”, nas palavras de Gomes da Costa.
Treinos desajustados
Depois da tomada de posse dos cerca de 70 navios que os alemães tinham atracado nos portos nacionais, a Alemanha declara guerra a Portugal e o esforço militar que até então se tinha dirigido para Angola e Moçambique tem de ser redobrado para se prepararem duas divisões para a frente europeia.
A União Sagrada, o governo que unia os democráticos de Afonso Costa e os evolucionistas de António José de Almeida, acelera os preparativos e cria, em Tancos, uma base de recrutamento e instrução que operaria um “milagre”.
Os treinos foram desajustados para a guerra estática, de trincheiras, que se arrastava entre os colossos europeus.
Mas, no essencial, a reunião de milhares de homens num lugar onde tiveram de ser montadas tendas com lona importada de Espanha num curto espaço de tempo não deixou de ser uma façanha.
No final de 1917, a divisão estava formada e pronta a partir.
Machado Santos ainda tenta em Dezembro um golpe militar a partir de Tomar para evitar a partida.
Sem sucesso.
No momento da partida, anteviam-se já muitos dos problemas.
Jaime Cortesão, médico e historiador que se ofereceu como voluntário para a guerra deixaria uma memória vívida desse momento: “Subo aos navios.
Os soldados bem.
Riem, aclamam, dão palmas num ou noutro barco.
Dos oficiais, alguns, os conhecidos, vêm ao nosso encontro com alegria e emoção.
Outros, e são muitos, em frente dos visitantes, perfilam-se hirtos e impenetráveis.
Por detrás das caras de pau sente-se todavia a hostilidade”, escreveu.
Após o desembarque em Brest, os batalhões do CEP tiveram de fazer uma viagem de comboio de 72 horas até se instalarem na zona do Lys, até essa altura uma zona da frente calma.
Em Julho, os primeiros soldados portugueses instalam-se então nas primeiras linhas das trincheiras.
Nesses primeiros meses de 1917, havia ainda ânimo e distensão para o divertimento ou para a ajuda aos camponeses da região nas fainas agrícolas.
O regresso do Inverno, a distância, a pressão psicológica da frente e a contabilidade dos mortos em combate começam então a afectar o moral do CEP.
Quinze dias depois de tomar conta do seu sector na linha defensiva, entre campos de trigo e aveia por vezes delimitados por olmos, plátanos, tílias e choupos, as tropas portuguesas fazem as suas primeiras incursões na “terra de ninguém” ou até no terreno do inimigo. Entre Julho e Outubro, ainda antes da segunda divisão do CEP tomar as suas posições, morrem 363 militares em combate.
Por essa altura, começam a irromper os primeiros sinais de insatisfação e de protesto (a insubordinação, a deserção e os motins foram frequentes em todos os exércitos).
Um panfleto intitulado Rol da Desonra punha em causa os alegados favores que o Governo concedia aos oficiais filiados no Partido Democrático.
A carência de meios de transporte apenas permitia o gozo de licenças em Portugal aos oficiais, o que alimentava o ressentimento.
Alma de exilados e sacrificados
“Cavou-se um abismo entre nós e a retaguarda”, explicava o major André Brum nas suas memórias sobre A Malta das Trincheiras.
“Ainda se perdoa um pouco aqueles que vêm, de quando em quando, de botas engraxadas e nas horas calmas da manhã [...]
Mas os outros, os que não vêm nunca, os que só conhecemos pela assinatura que põem em papéis escritos à máquina, para esses, não há na nossa alma de exilados, de sacrificados, desdém que baste”, continuava.
Os “sacrifícios” dos soldados e a sua revolta podem imaginar-se traçando um ligeiro cenário do que era a vida na frente.
Várias linhas paralelas voltadas para as posições do exército alemão sucediam-se ao longo de quilómetros.
Da primeira linha nacional até à primeira trincheira inimiga era a “terra de ninguém”, onde sob a calada da noite se organizavam breves surtidas.
Para trás, regra geral, ficava uma linha intermédia a dois quilómetros e uma segunda linha a três quilómetros.
Pelo meio, havia zonas de circulação e extensas áreas cobertas de arame farpado.
A vida neste labirinto era terrível.
A lama, os ratos que se alimentavam de cadáveres em decomposição na terra de ninguém e espalhavam doenças, os piolhos, o frio, a comida fornecida pelos ingleses com picles que os portugueses odiavam, os bombardeamentos frequentes e o receio permanente de raides ou de ofensivas mais perigosas concediam às trincheiras uma aura de pesadelo que alimentava a raiva e aprofundava a tristeza e o desânimo.
Lá para o final do ano, a 5 de Dezembro, o golpe militar conduzido pelo capitão de Artilharia e ex-embaixador de Portugal em Berlim, Sidónio Pais, tira do poder a vanguarda dos adeptos da guerra.
Sidónio, suspeito de germanofilia, congela discretamente o esforço de guerra.
Em Janeiro de 1918, concorda com uma mudança no dispositivo militar português que reduzia a ocupação da linha da frente a uma única divisão – a segunda ficaria na retaguarda como reserva.
Os oficiais que vinham de licença a casa começavam a ficar por cá sem que nada lhes acontecesse.
Para os soldados que tinham passado o Inverno entre a lama e a neve das trincheiras, estas notícias eram devastadoras.
O seu estado de ânimo pioraria nos alvores da Primavera, quando os alemães redobram os seus ataques.
Só no mês de Março, 235 portugueses morrem na sequência dos raides.
Era o prenúncio do episódio decisivo da série do CEP.
A 21 de Março, o Exército alemão tenta uma nova ofensiva de grande escala para romper as linhas de defesa britânicas na zona do Marne.
Depois do sucesso inicial, a operação esgota-se, numa repetição quase ritual da história da Primeira Guerra Mundial, feita de avanços e recuos de poucos quilómetros inúteis que deixavam um rasto de centenas de milhares de mortos.
Em meados do mês, os britânicos e os franceses tinham conseguido suster o avanço e, em Berlim, o alto-comando alemão, liderado por Erich Ludendorff, começa a preparar uma nova ofensiva na zona do Lys.
Objectivo: romper um corredor até à costa, em Calais.
Oito divisões, com cerca de 100 mil homens, são mobilizadas.
Depois de ter acabado a guerra na frente leste, a Alemanha reúne todas as suas forças para acabar de vez com o impasse no Ocidente.
Ao longe, os postos avançados do CEP davam conta das movimentações de tropas, de munições e de víveres.
O ritmo da chegada e partida de comboios acelerou.
Os voos de reconhecimento aumentaram.
Os interrogatórios a prisioneiros confirmavam que algo estava para acontecer.
A 4 de Abril, Gomes da Costa avisava o comando britânico: “Não posso deixar de desde já declinar toda a responsabilidade que possa resultar de guarnecer uma frente tão extensa com um efectivo tão excessivamente reduzido.”
Tropas nacionais desgastadas
Pouco antes do aviso de Gomes da Costa, no dia 1 de Abril, o comandante da “Brigada do Minho”, Adolfo Barbosa, dizia ser “impossível continuar a despender a mesma energia física, porque o limite de resistência está excedido”.
Um mês de ataques que impunham um permanente estado de alerta dificultavam as licenças, e exigiam sucessivas reparações dos sistemas defensivos, tinham desgastado as tropas nacionais.
A revolta alastra.
Na noite de 4 para 5 de Abril, o Batalhão de Infantaria 7 recusou-se a marchar para as trincheiras.
O general Tamagnini de Abreu e Silva, comandante do CEP, citado pelo historiador Luís Alves de Fraga, registou esse momento nas duas memórias: os soldados “vociferavam, dizendo que os oficiais iam de licença a Portugal e não voltavam, enquanto eles ficavam; que a Alemanha tinha declarado guerra a Portugal e não apenas às duas divisões que estavam em França; que não vinham reforços de Portugal; que parecia estarem eles condenados a morrer todos em França, etc. etc…”.
Por esses dias do início de Abril “sabia-se que ia haver um ataque alemão ali”, nota Aniceto Afonso, e a degradação do moral das tropas portuguesas era um risco para a estabilidade da frente.
“Tenho informações de que o estado dos portugueses é muito mau, e ontem um batalhão recusou-se mesmo a guarnecer as trincheiras.
Decidiu-se substituí-los por tropas britânicas hoje à noite.
A dificuldade está em saber o que fazer com eles.
As tropas estão muito descontentes sobretudo porque os oficiais têm tido licenças para ir a Portugal enquanto os soldados não.
A revolução [sidonista] que recentemente ocorreu em Portugal também os perturba”, escreveu no seu diário Douglas Haig, comandante da Força Expedicionária Britânica.
Entre o dia 6 e 7, o Estado-Maior britânico decide que a hora de render as tropas portuguesas tinha chegado.
Daí a dois dias, os portugueses começariam a retirar e seriam substituídos por tropas britânicas.
Esse momento de libertação nunca existiria.
Não há provas de que os alemães soubessem desse momento de vulnerabilidade quando lançaram a sua ofensiva, nota Aniceto Afonso.
Certo é que, por volta das quatro da manhã do dia 9, a artilharia começa a lançar um tapete de bombas sobre as posições portuguesas e os pontos de junção nas linhas com os britânicos.
Inicialmente, os soldados e os oficiais acreditavam que era mais um bombardeamento de rotina.
Cedo se aperceberam de que era muito mais do que isso.
A destruição começou nas zonas do comando e, como um rolo compressor, os obuses foram-se aproximando da linha da frente.
Por volta das nove da manhã, as comunicações entre os sectores quase não existiam. Homens, abrigos e equipamento ficaram soterrados.
As barreiras de arame farpado tinham sido varridas.
Granadas com gases tóxicos foram lançadas para as trincheiras.
Como acontecera em outras grandes ofensivas, os alemães tentavam forçar uma brecha. Às 7h50, os primeiros soldados das oito divisões alemãs comandadas pelo general Von Quast erguem-se dos parapeitos das suas trincheiras e caminham pela terra de ninguém a coberto da artilharia.
Por volta das dez tinham conseguido arrasar as primeiras defesas portuguesas e iniciaram a sua penetração.
Os soldados que estavam nessas posições viveram horas de horror.
“Os gases asfixiantes sentiam-se em toda a parte, havendo imperiosa necessidade de colocar as máscaras.
Então os exércitos pareciam constituídos por fantasmas, parecia urna luta diabólica onde o homem era batido por uma infernal chuva de ferro em brasa”, recordaria, já em 1930, o capitão Rodrigo Álvares Pereira.
Os alemães, que avançavam a 80 metros da linha devastada pela artilharia, surgiam em catadupa entre as nuvens de gás e o nevoeiro gélido e começaram a fazer os primeiros prisioneiros.
Perdidos, sem ordens do comando nem cadeia logística capaz de suprir as necessidades de munições, por vezes encurralados nas suas trincheiras, os soldados tentam desesperadamente fugir ou rendem-se.
Casos como o do major Xavier da Costa, que defendeu duramente até perder a maioria dos seus homens, ou o do soldado Milhões são raros.
O sector português mergulhara no caos.
Por volta da hora do almoço, os altos comandos dão conta de que está tudo perdido.
Os alemães tinham chegado às posições da artilharia.
Estava na hora de salvar o que fosse possível.
Maurice Symington, um britânico nascido no Porto em 1895 no seio de uma família dedicada ao negócio do vinho do Porto (a família ainda hoje é dona de marcas conhecidas, como a Graham’s ou a Dow’s), oferecera-se como voluntário e fora destacado como oficial de ligação ao comando do CEP pelo seu domínio do português.
Num plano mais afastado da frente, Maurice entrara no “pior momento da vida”, quando as primeiras bombas começam a cair.
No auge do bombardeamento, chegou a contar dez explosões por minuto.
Às 14h15, os canhões calaram-se e as metralhadoras começam a ouvir-se.
Os alemães tinham definitivamente rompido as defesas e aproximavam-se.
Nas suas memórias inéditas e nas inúmeras cartas que escreveu para os pais, no Porto, Maurice deixa de La Lys uma memória de desespero e sofrimento que acaba quando, por volta das 14h45, decide in extremis pegar em algumas peças de roupa e retirar.
“Apenas alguns se salvaram a tempo”, diz.
“Não sei como não morremos todos”, acrescenta.
Nas primeiras linhas, a batalha tinha terminado há muito.
Soldados alemães dedicavam-se a eliminar as últimas e ténues bolsas de resistência e procediam a centenas de prisões.
Nas áreas mais afastadas, a palavra de ordem era correr mais depressa do que o avanço alemão.
Um comandante de batalhão citado por Luís Alves Fraga recordaria já a caminho do cativeiro o cenário desolador a que assistiu: “Da primeira e da segunda linha não restava mais do que um montão de ruínas confuso e informe, tendo sucedido o mesmo a todos os caminhos e estradas de acesso, sendo aqui e além presos alguns praças que ainda se conservavam em abrigos que por milagre se tinham mantido intactos.”
Quase sete mil portugueses são concentrados com uns 12 mil ingleses num descampado cercado por arame farpado.
Um livro da jornalista e investigadora Maria José Oliveira (Prisioneiros Portugueses da Primeira Guerra Mundial) segue-lhes a peugada até ao seu regresso a Portugal.
Ficariam na frente, num mar de lama, durante quase uma semana.
Nos primeiros três dias, não comeram.
Depois foram distribuídos por 81 campos de internamento e de trabalhos forçados.
Sem botas e com bicicletas roubadas
Ao contrário da debandada portuguesa, os britânicos conseguem resistir.
A norte, a 55.ª divisão britânica aguenta o embate.
A sul, a 40.ª divisão sofre duras baixas, é obrigada a recuar, mas fá-lo de forma organizada, combatendo, sem debandar.
Comparando o comportamento dos dois exércitos, Douglas Haig chega à exasperação.
Os portugueses, escreveria no seu diário, “escapuliram-se em tal confusão que impediram as nossas reservas de avançar para enfrentar o inimigo.
Alguns até descalçaram as botas para correr mais depressa e outros roubaram bicicletas do Corpo de Ciclistas que tinha sido enviado para aguentar a frente em La Couture e na sua periferia”.
Pode ter havido neste relato algum exagero.
Mas os próprios portugueses deram conta da tragédia que tinha acontecido.
Depois da batalha de Negomano, no Norte de Moçambique, que tinha aberto as portas da fronteira do Rovuma à invasão alemã, a hecatombe na Europa era uma ferida aberta na credibilidade do Exército e da República.
Jaime Cortesão falou num novo Alcácer-Quibir.
Daí até ao final da guerra, o que restava das duas divisões preparadas em Tancos fica remetida a posições subalternas longe da frente.
Milhares de soldados são convocados como mão-de-obra para a abertura de trincheiras.
O “fado do ‘cavanço’” , que se cantava desde o Outono de 1917, ganha outra adesão ao quotidiano dos soldados.
O CEP “acabara como unidade militar”, explica Aniceto Afonso.
Um grupo restrito de militares recusou o regresso a Portugal e ficou com os soldados até depois do Armistício, assinado a 11 de Novembro.
André Brun, Garcia Rosado, o capitão Ferreira do Amaral, Hélder Ribeiro e Augusto Casimiro, republicanos e futuros opositores do Estado Novo, ou o tenente-coronel José de Serpa Pimentel tentam manter a dignidade que restava ao CEP.
Casimiro e Garcia Rosado conseguem ainda formar batalhões de assalto que participam nas ofensivas finais da guerra.
O clima de dissolução do corpo expedicionário era, porém, tão acentuado que qualquer convocação para as trincheiras gerava revoltas.
Em Outubro de 1918, algumas incluíram assaltos a paióis e motins dominados pela força, em que soldados tiveram de disparar sobre soldados.
O 9 de Abril seria, nas décadas seguintes, o dia em que o Estado Novo celebrava o “soldado desconhecido” e os portugueses que morreram nos campos da Flandres (ou nas selvas de África).
Na contabilidade final do conflito, os cerca de dois mil soldados portugueses mortos na Flandres (outros tantos em África) são uma insignificante gota no oceano da brutalidade da Grande Guerra, que provocou entre oito e dez milhões de mortos.
Ainda assim, Portugal teve direito a desfilar ao lado dos vencedores e a reclamar o seu quinhão de glórias na Conferência de Paz que se seguiu.
La Lys ficaria então na memória como uma ferida exposta da incompetência da República radical e Gomes da Costa estaria à frente do golpe do 28 de Maio de 1926 que a derrubaria.
A história do “soldado Milhões” seria usada até à exaustão como arma de propaganda talhada para exaltar o heroísmo e o apego aos valores da pátria.
Com o passar do tempo, o CEP, La Lys, Gomes da Costa ou Aníbal Augusto Milhais (o soldado com 1,55 metros de altura que, dizia a lenda, valia milhões) foram caindo no esquecimento.
Um século depois, recuperar as suas memórias é quase como viajar até um tempo improvável, que não existe.
manuel.carvalho@público.pt
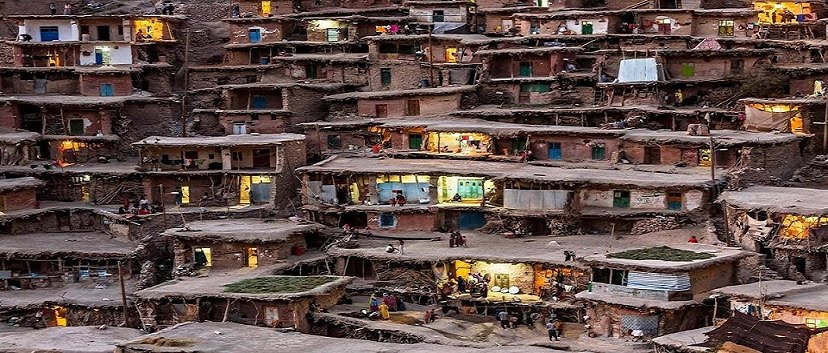








Sem comentários:
Enviar um comentário